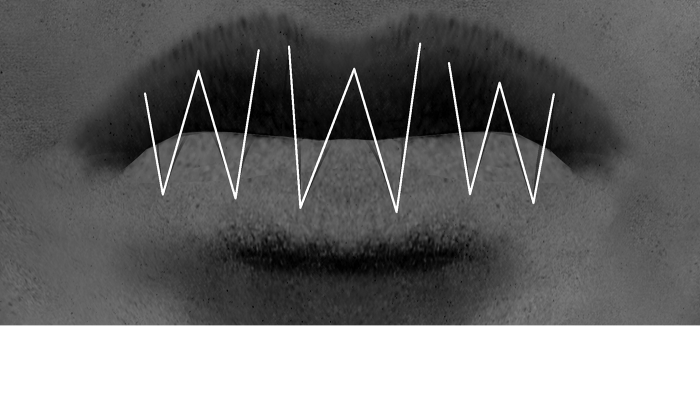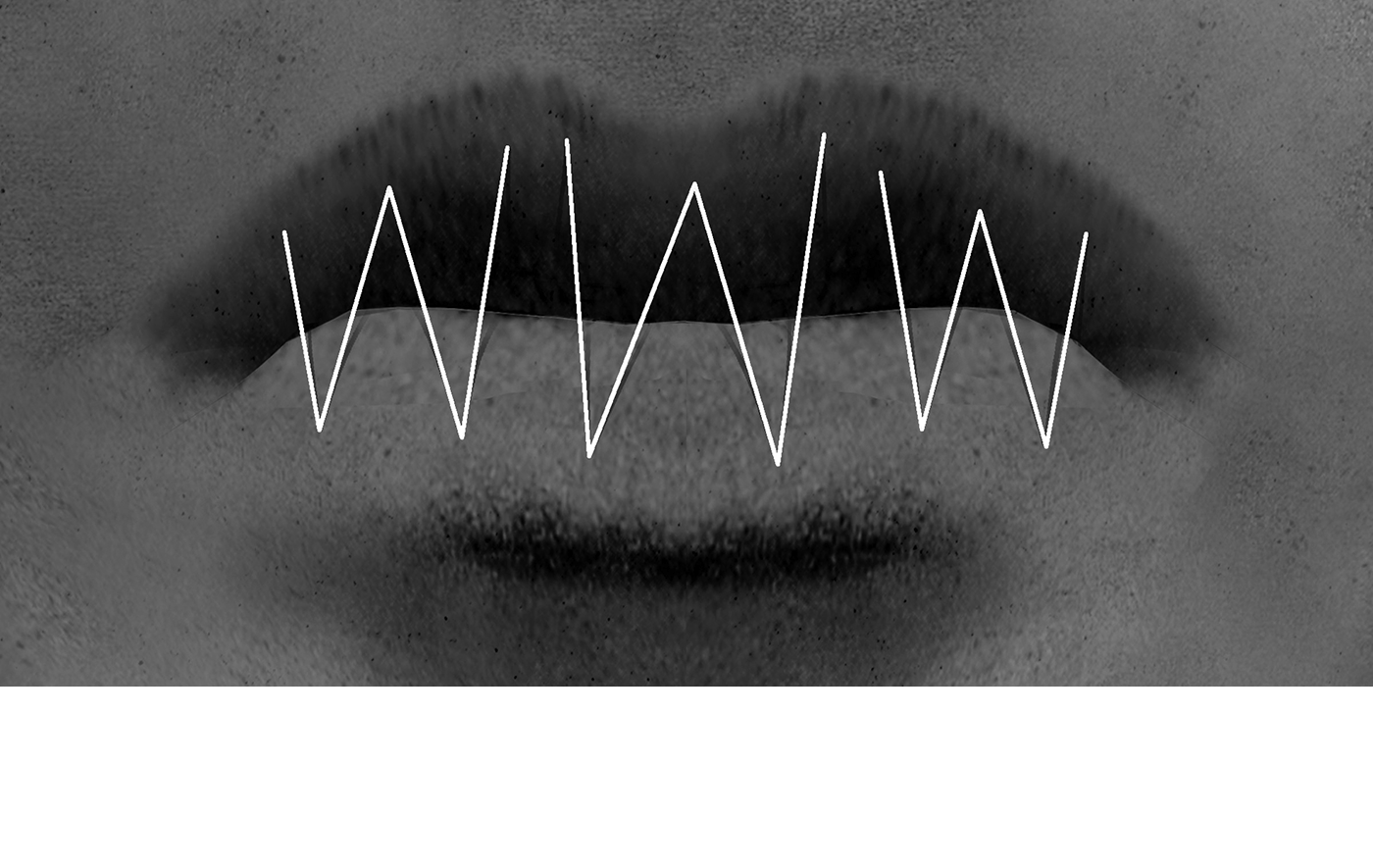A proteção à expressão e à privacidade online complica quando Estados se recusam a aplicar os princípios que reconheceram internacionalmente as suas próprias práticas e leis domésticas. É como se, em uma estrada, todas as placas em direção à liberdade de expressão e privacidade apontassem para um lado, mas os governos insistissem em tomar a bifurcação errada, alegando aos passageiros preocupados que o fazem pela própria segurança deles.
As divergências entre os discursos dos países nas Nações Unidas e as ações que tomam, de fato, em seus territórios, não são nenhuma novidade. Porém, quando se trata das restrições aos direitos na internet, até mesmo os próprios governos não parecem estar cientes dessas discrepâncias. Eles parecem achar que a internet é, de alguma forma, diferente, talvez ainda mais poderosa do que a velha mídia – e, por isso, buscam maior controle e limitações à rede.
Eles têm, sim, razão ao pensar que a internet oferece aos indivíduos possibilidades de comunicação que ultrapassam fronteiras e aumentam o acesso à informação mundial como nunca visto antes. Essas imensas possibilidades, no entanto, não justificam sacrificar a privacidade e a liberdade dos usuários na rede, para criar poderes de vigilância sem precedentes.
Novas tecnologias vêm há muitas décadas, mesmo quando leis de direitos humanos internacionais apenas começavam a ganhar força, empoderando indivíduos – tanto para coisas boas quanto ruins – e tornando o mundo menor. Máquinas de escrever podem estar caminhando para a extinção, mas os direitos parecem ser mais importantes do que nunca. A forma com que os governos protegerão os direitos na era digital determinará se a internet será um vetor de libertação ou de aprisionamento.
O discurso e as políticas dos Estados
A diferença entre o que as normas dizem e o que, de fato, os Estados fazem, fica ainda mais evidente no debate sobre vigilância.
Edward Snowden, um ex-funcionário do governo dos EUA, levou a importância desse debate a um novo patamar no ano de 2013, ao vazar documentos à imprensa que mostravam que os Estados Unidos e seus aliados estavam envolvidos na obtenção massiva e indiscriminada de informações privadas de pessoas que não tinham nenhuma conexão com práticas ilícitas, nos EUA e no exterior. Às revelações, sobreveio a condenação popular e de governos. A ONU viu suas atividades se intensificarem com debates e resoluções na Assembleia Geral, no Conselho de Direitos Humanos, com relatórios de especialistas e até mesmo com a criação de uma nova relatoria sobre privacidade. Ao redor do mundo, pessoas denunciaram a vigilância às cortes e magistrados debatiam sua legalidade.
Ainda assim, no anos que se seguiram, poucos foram os países que reduziram os poderes de vigilância e muitos foram os que tomaram o caminho inverso, transformando-os em poderes previstos em lei para uma atuação similar às práticas dos EUA.
Nos Estados Unidos, algumas reformas ganharam força – apesar de parecer improvável que possam reduzir significativamente a amplitude da coleta de dados e o monitoramento em tempo real. O Congresso substituiu a lei usada para justificar a obtenção de milhões de escutas telefônicas por uma nova lei que é apenas um pouco mais restritiva do que a anterior. O presidente Barack Obama desculpou-se pela espionagem de chefes de Estado aliados, mas os orgãos públicos que permitem que a vigilância das comunicações internacionais se efetive ainda consentem a obtenção de informações para os “serviços de inteligência internacional”, motivo vago que pode facilmente servir de pretexto para a interceptação de comunicações, incluindo de cidadão americanos que por acaso acabem envolvidos nas buscas.
O Reino Unido está adotando a polêmica Proposta de Poderes Investigativos, que legaliza as práticas de vigilância em massa que interceptam o tráfico de dados pela internet à cabo cuja rede está conectada sob os oceanos, o hackeamento de governos e as autorizações especiais temáticas que permitem aos serviços de inteligência designarem alvos genéricos de espionagem sem uma autorização judicial prévia.
A França também caminhou rumo à legalização de práticas de vigilância em 2015, mas com leis profundamente inconsistentes e feitas às pressas em meio aos ataques terroristas que ocorreram. A Comissão da ONU de Direitos Humanos, ao rever o comprometimento da França com o Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Civis (ICCPR, em inglês), concluiu que a lei de inteligência de 2015 “concede poderes excessivos de vigilância extremamente intrusiva baseados em contextos amplos e mal definidos, sem autorização judicial prévia e sem um mecanismo adequado e independente de regulação”. Mais recentemente, o Conseil d’Etat julgou inconstitucional a prática de vigilância não autorizada de comunicações por rede sem fio previstas pela lei.
A Rússia foi outro país que deu passos para trás, com emendas legislativas em 2016 que exigem que empresas armazenem por seis meses o conteúdo de todas as comunicações feitas, por três anos todos os dados sobre essas comunicações e que o armazenamento de todas as suas informações seja feito em território russo. As empresas também devem fornecer “informações necessárias para decodificar” suas comunicações digitais – uma medida que pode significar o acesso remoto não autorizado a conteúdos criptografados.
A China, líder de longa data na censura da expressão online e no controle ao acesso de sites por meio de um firewall, isto é, uma barreira de segurança nacional, adotou uma lei de segurança informática em 2016 que obriga empresas a bloquearem e restringirem o anonimato online, armazenarem os dados de usuários na China e monitorarem e relatarem indefinidos “incidentes de segurança na rede”, aumentando o receio de maiores vigilâncias.
Até mesmo o Brasil e o México, ambos críticos dos programas de vigilância massivos da Agência de Segurança Nacional (NSA, em inglês) dos EUA e grande defensores da privacidade na ONU, trabalharam com propostas de lei para crimes cibernéticos em 2016 que ampliariam as exigências para a guarda de dados e restringiriam o acesso à informação e à livre expressão. A Alemanha, uma das maiores defensoras de leis de proteção de dados, aprovou uma lei em outubro de 2016 que autorizava a vigilância massiva de não-cidadãos, o que lhe rendeu críticas de três especialistas da ONU e um questionamento legal em relação à constitucionalidade.
Não é difícil imaginar por que o especialista da ONU para liberdade de expressão lamentou tanto, afirmando que “um dos aspectos mais frustrantes da atual situação... é que muitos Estados com forte histórico de apoio à liberdade de expressão – em suas leis e em suas sociedades – aprovaram medidas passíveis de abusos”.
Três características distintivas da internet (e por que elas nos assustam)
Esse cenário esquizofrênico, no qual Estados juram proteger os direitos humanos internacionais online e logo em seguida aprovam leis que os enfraquecem, reflete uma profunda divisão na forma como as pessoas percebem a internet, suas promessas e seus perigos.
Houve uma época em que aspirações utópicas permeavam a discussão sobre internet e direitos humanos – a internet libertaria discursos e expressões, removeria intermediários, permitiria a organização social em escalas nunca antes vistas. Em alguns dos casos, essas promessas mostraram-se reais; ativistas reprimidos pelo controle de governos autoritários que suprimiam organizações, protestos ou mídias independentes puderam continuar a defender suas causas e bandeiras online. O conhecimento antes confinado a bibliotecas, universidades ou outras redes da elite ficou disponível a usuários remotos em vilas, campos ou favelas. Mentes puderam se encontrar nesse novo local, o “ciberespaço”, colocando as criações e impactos globais ao alcance de pessoas comuns.
A resposta das autoridades que consideravam esses avanços uma ameaça não demorou a vir. Dissidentes e críticos de governos não-liberais que tentaram fugir da repressão por meio do uso da internet logo passaram a ser monitorados, humilhados publicamente ou presos – práticas bastante recorrentes hoje na Turquia, Egito, Vietnã, Arábia Saudita, China ou na República Chechena da Rússia. Alguns governos, como o egípcio, buscaram punições ainda maiores para crimes de discurso e expressão cometidos online do que para esses mesmos “crimes” cometidos fora da rede.
Quando ativistas (assim como alguns criminosos) tentaram proteger-se por meio do anonimato ou de criptografia, governos emitiram ordens ou propuseram leis para forçar empresas de tecnologia a entregar os dados de seus usuários e decodificar as comunicações. Barreiras de segurança nacionais, bloqueio de mídias sociais e mesmo bloqueio completo à conexão de internet são usados por governos repressivos em seus esforços para controlar a atividade online.
Mas há, mesmo longe dos contextos autoritários, incertezas em relação ao poder da internet para a mobilização social. Pessoas podem admirar como ativistas pela democracia organizam-se na rede, e, ao mesmo tempo, manifestarem preocupação com o recrutamento remoto feito pelo Estado Islâmico (ISIS, em inglês). Elas podem aplaudir aqueles que levantam e divulgam provas de crimes de guerra na internet, e, ainda assim, condenar “trolls” que expõem, ameaçam ou atormentam suas vítimas na rede.
Para analisar esses sentimentos contraditórios sobre o poder do discurso e da expressão online, é preciso, primeiro, diferenciá-lo da comunicação fora da rede da internet. Ao menos três características são distintivas da comunicação online: ela pode ser mais “solta” – isto é, menos inibidora – do que o discurso no mundo real; ela permanece e pode ser acessada na internet por um longo período de tempo, a menos que seja deliberadamente removida; e ela é inerentemente sem fronteiras, tanto na forma como viaja quanto na forma pela qual é acessada. Cada uma dessas características pode tornar o discurso online muito poderoso. E cada uma delas torna mais difícil a tarefa de regulação.
A desinibição na comunicação online é um fenômeno muito estudado, porém ainda pouco compreendido. Ela é responsável por uma maior interação e “compartilhamento” quando usamos mídias sociais, e também por uma maior informalidade, agressividade e criticismo. Embora seja comum associar a desinibição ao anonimato na rede, essa menor inibição também é característica de discursos na rede, e diversos estudos mencionam muitos fatores que contribuem para essa característica, incluindo a rapidez e a impersonalidade de um veículo de comunicação que traz pouca interação e mensagens não verbais. De fato, identificar-se (de forma que outros usuários o vejam como o maior “troll” do site) pode ainda piorar o comportamento. Essa complexidade sugere que políticas contra o anonimato e nomes falsos podem não necessariamente garantir uma comunicação mais responsável. Elas são, no entanto, a exigência predileta de regimes autoritários que gostariam de identificar dissidentes para poderem silenciá-los.
A permanência da informação online ultrapassa todos os tipos de pesquisas e levantamentos de notícias por um longo tempo após sua publicação. A verificação de fatos em tempo real em debates políticos, por exemplo, pode contribuir imensamente para decisões bem informadas em eleições. Mas permanecem também discursos maliciosos ou falsos, e mesmo quando as vítimas destes conseguem retirá-los do ar em algumas jurisdições, eles podem permanecer disponíveis em outras.
O Tribunal Europeu de Justiça considerou esse problema no julgamento de Costeja em 2014, obrigando mecanismos de buscas como o Google a eliminarem de seus resultados informações “imprecisas, inadequadas, irrelevantes ou excessivas” – um padrão que potencialmente permite restrições muito maiores ao acesso público de informações do que permitido pelos padrões de direitos humanos e algumas constituições nacionais. Uma visão europeia do que é informação “irrelevante” ou “excessiva” pode, por exemplo, confrontar a visão de uma corte dos EUA sobre violações às garantias de liberdade de expressão da Primeira Emenda; a informação poderia permanecer acessível nos EUA mesmo se fosse apagada dos resultados de busca na Europa.
A permanência da informação na rede e sua acessibilidade global levou tribunais no Canadá e na França a emitirem ordens ao Google exigindo que retirasse conteúdo online globalmente, e não apenas nos países de jurisdição das ordens. Mas se o pedido do Canadá e da França prevalecer, pedidos para remoção de conteúdo vindo de todas as partes do mundo e com alcance global poderão tornar-se de praxe, incluindo dos países que rotineiramente reprimem dissidentes. Outros países que respeitam os direitos implementariam esses pedidos de remoção de conteúdo?
Pode ser que nem cheguemos a essa questão. Tais determinações colocariam o fardo das contestações legais àqueles que se expressam, e não aqueles que desejam reprimir os discursos. Pessoas que colocam material controverso na internet podem não ter recursos suficientes para contestar tais ordens em todos os países. A força de determinações globais é o seu efeito de dissuasão. Elas podem reduzir a quantidade de conteúdo que alguns países consideram ilegais, mas podem também esvaziar a internet de muito dos debates, da arte, da heterodoxia e do criticismo que a constituem.
Por fim, a acessibilidade que ultrapassa fronteiras e os caminhos da comunicação online empodera aqueles que estão longe dos centros comerciais e sociais onde estão concentradas as informações, sejam eles moradores de vilas ou rebeldes do interior. Os governos têm procurado controlar informações por meio da exigência de que dados permaneçam armazenados dentro de suas fronteiras para facilitar a vigilância, ou por meio de barreiras de segurança que permitem que informações indesejadas não entrem no país. Essas propostas podem parecer atrativas num contexto em que se busca limitar a influência de terroristas, dificultar a apropriação de propriedade intelectual e constrager aqueles que expõem e humilham pessoas. No entanto, parecem ser menos benéficas quando consideradas sob o ponto de vista de ativistas e dissidentes que buscam expressar seus pensamentos e denúncias para além das barreiras dos firewalls, na esperança de que se espalharão e estarão acessíveis para o restante da rede.
A combinação de todas essas características – compartilhamento abundante de informações, frequentemente sem intermediários, acessíveis através do tempo e de fronteiras – torna possíveis colaborações científicas, artísticas e até mesmo investigativas nunca antes vistas, mas também traz a perigosa possibilidade de perseguições sem precedentes a diversos indivíduos e grupos sociais. Prospecções, levantamentos e retenções de dados estão cada vez mais no radar da proteção aos direitos humanos como novos e potenciais perigos à liberdade. Esse cenário levou o proeminente arquivista digital Brewster Kahle a declarar: “Edward Snowden mostrou que construímos inadvertidamente a maior rede de vigilância do mundo com a ajuda da internet”.
Os problemas levantados pelas características particulares da comunicação online parecem exigir que dobremos os esforços para assegurar a privacidade e a liberdade de expressão, em vez de simplesmente abrir mão delas. A internet não é um meio incomum ou ameaçador, e sim uma forma de multiplicar os meios de transmissão de todos os tipos de discursos e informações no mundo. Não estamos num Estado de exceção, e a premissa básica da legislação de direitos humanos é a de que a observância total dos direitos como a liberdade de expressão e a privacidade seja a norma; suas limitações é que devem ser as exceções.
A tecnologia muda; os padrões de direitos humanos se mantém
Em 1948, os elaboradores da Declaração Universal dos Direitos Humanos tiveram a visão de trazer da obsolescência um dos direitos mais fundamentais do homem. O artigo 19 deste documento fundamental da ONU afirma que:
“Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (grifo da autora).
Desde então, o princípio de que direitos aplicados fora da rede também devem ser aplicados online foi reiterado pelo Conselho de Direitos Humanos e pela Assembleia Geral da ONU. Embora as novas mídias originem novos desafios, há pouco apoio à visão de que o advento da internet tornou, de alguma forma, os direitos humanos menos importantes ou sujeitos a critérios e medidas completamente diferentes.
Os princípios básicos para avaliar se as restrições à livre expressão, acesso à informação, associação e privacidade são condizentes ou não com a legislação internacional de direitos humanos são claros e estão refletidos em muitos sistemas legais regionais e nacionais. O Comitê de Direitos Humanos, o órgão de especialistas da ONU que interpreta o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (ICCPR, em inglês), resumiu em 2004 a estrutura de avaliação da seguinte forma:
“Os Estados devem provar sua necessidade e adotar apenas as medidas que sejam proporcionais à busca de objetivos legítimos para garantir uma proteção constante e eficaz dos direitos do Pacto. Em nenhum caso é permitido que as restrições sejam aplicadas ou invocadas de forma a enfraquecer a essência de um direito do Pacto”.
Considere a avaliação de “necessário” para um “objetivo legítimo” que seja um objetivo especificado no Pacto, tais como segurança nacional, ordem pública ou os direitos de outros. O Estado tem a obrigação de mostrar "uma conexão direta e imediata" entre o direito à restrição e a ameaça. Não seria suficiente, por exemplo, coletar informações pessoais simplesmente porque essas podem ser, em algum momento indeterminado no futuro, úteis para uma variedade de interesses nacionais.
Analisando o contexto das justificativas mais comuns para vigilância eletrônica, o relator especial afirmou que “Estados frequentemente usam o pretexto de segurança nacional ou ordem pública para legitimar qualquer restrição”. Tais interesses são interpretados pela legislação de direitos humanos como sendo mais de interesse público do que de algum governo ou grupo particular. Logo, a “segurança nacional” deve ser vista como o interesse público na manutenção da independência nacional ou da integridade territorial, e não como a preocupação de indivíduos ou grupos de permanecerem no poder ou de manterem vantagens sobre opositores. Discriminações de ódio nunca são de interesse público e não podem ser a base para uma limitação válida de direitos, de forma que medidas de vigilância voltadas para grupos religiosos, étnicos ou nacionais não podem ser justificadas como “necessárias” à “segurança pública”.
Coletas de dados feitas “por extensão” e a retenção prolongada de grandes quantidades de informações pessoais irrelevantes seriam dificilmente justificáveis em condições normais como medidas “necessárias”, uma vez que precisam estar comprovadamente conectadas de forma direta com uma ameaça específica à segurança nacional ou à ordem pública. Mas, como mencionado acima, a legislação internacional de direitos humanos exige que leis de restrição a opiniões sejam não apenas necessárias como também “proporcionais”, e é cada vez mais difícil provar que medidas extensivas de vigilância atendam a esses critérios.
Para ser proporcional, uma limitação aos direitos precisa ser a forma menos restritiva possível de se proteger os interesses públicos que motivaram a restrição. É difícil imaginar como invadir regularmente a privacidade de todos e monitorar a comunicação de todos seja proporcional a uma ameaça específica, até mesmo quando se trata de ameaças de grupos terroristas. Sem dúvidas, essas práticas parecem “enfraquecer a essência do direito”.
As características especiais da internet podem fazer velhos problemas – sejam eles terrorismo, discursos de ódio, discriminação contra minorias ou prevenção de crimes – parecerem ainda mais ameaçadores e novas soluções parecerem mais necessárias do que nunca. Mas nossa obrigação – se acreditamos que os direitos têm um significado – é continuar a submeter todas as soluções que limitam direitos a avaliações rigorosas de proporcionalidade e necessidade.
Aplicando os padrões aos desafios atuais
Membros das forças de segurança têm argumentado que, para identificar terroristas e prevenir ataques, uma grande quantidade de informação deve ser coletada e disponibilizada para investigações. Presume-se que mais dados trarão mais informações relevantes para serem analisadas, trazendo à tona mais “pistas” que levem a ameaças verdadeiras. Isso pode funcionar para problemas para os quais os casos sejam abundantes e os fatores de risco já sejam conhecidos e relativamente fáceis de se identificar.
Mas terroristas e planos de ataques são relativamente raros e apresentam perfis, motivações e detalhes bastante variados. Falsas pistas podem sobrecarregar o sistema e desviar recursos de ações que poderiam ser mais eficazes, como o desenvolvimento de redes confiáveis de informantes ou o levantamento do histórico criminal de suspeitos para a obtenção de pistas.
Como afirmou o especialista de segurança Bruce Schneier em seu recente livro, Data and Goliath, “não há uma razão científica para acreditar que adicionar informações irrelevantes de pessoas inocentes facilite a localização de um ataque terrorista, e muitas evidências mostram que, de fato, isso não acontece”. Até mesmo a NSA pediu aos seus funcionários para que “armazenem menos informações desnecessárias”. Quanto mais informações irrelevantes são adicionadas ao sistema, mais difícil é de se justificar a proporcionalidade do programa de coletas de informações. Mas quando coletas massivas de informações levam a retenções massivas de informações, novas questões surgem. Uma delas é se os dados coletados por um motivo específico (por exemplo, inteligência nacional) poderão ser usados mais tarde sob outro pretexto (aplicação de leis de combate às drogas, por exemplo).
A não ser que cada uso diferente desses dados esteja submetido a uma nova avaliação independente dos critérios de necessidade e proporcionalidade, a reutilização de dados sob outros motivos não parece cumprir com a legislação de direitos humanos. E a retenção de dados simplesmente porque eles podem ter algum uso futuro é difícil de ser justificada como “necessária”. Como julgou recentemente a Suprema Corte da Noruega em um caso que avaliava a apreensão de gravações de um documentarista, a possibilidade de que o material gravado guardasse “pistas valiosas” para a prevenção de recrutamento de terroristas não constitui motivo suficiente para tornar a sua exposição “necessária”.
Outro problema é o uso de informações enviesadas para fins futuros. Empresas vêm há bastante tempo coletando e analisando informações de consumidores para prever que tipos de propaganda, notícias ou listas de emprego mais se adequam aos seus perfis. Leis de proteção de dados podem oferecer alguma proteção contra essa prática, ao obrigar empresas a tornarem mais transparentes as políticas de usos de dados dos clientes, assim como permitindo aos usuários corrigirem suas informações ou recusarem-se a fornecê-las.
Mas quando o governo usa a análise de dados para prever onde se deve alocar policiais ou se um réu com um perfil particular é mais provável de se tornar reincidente, raramente há transparência em relação ao tipo de dado é utilizado para criar o algoritmo – e dados enviesados produzem resultados enviesados. Práticas das forças de segurança frequentemente refletem preconceitos, como mostrou a Human Rights Watch em relação aos perfilamento de imigrantes e muçulmanos feitos pela polícia e às disparidades raciais em abordagens e prisões nos EUA, às verificações abusivas de identidade de muçulmanos na França ou à discriminação da polícia contra pessoas transgênero no Sri Lanka.
Algoritmos criados com base em informações enviesadas podem reforçar e até mesmo agravar políticas de discriminação a certos grupos, num horrível ciclo de auto-confirmação.
A vigilância, mesmo justificada, envolve a limitação de direitos, e pré-concepções podem transformá-la em instrumento de discriminação ou até mesmo à perseguição. Quando a crença, etnia, orientação sexual ou raça de uma pessoa é considerada como um indicador de potencial criminalidade – pela polícia ou por um algoritmo – seus direitos estão sendo violados.
Programas para “combater o extremismo violento” podem cair nessa armadilha quando equiparam a expressão de crenças ou opiniões “extremistas” com qualquer indicador real de violência.
A estratégia de “prevenção” do Reino Unido, por exemplo, define seu objetivo como combate “ideológico”– isto é, às ideias – e define "extremismo" como uma “oposição vocal ou ativa aos valores fundamentais britânicos”. Escolas, e, consequentemente, professores, são obrigados a monitorar a atividade online das crianças em busca de sinais de radicalização e intervir nos casos daqueles considerados “vulneráveis”. O programa recebeu críticas generalizadas de professores por reprimir a liberdade de expressão nas salas de aula, e de muitas outras pessoas por estigmatizar e isolar exatamente os setores da sociedade dos quais as forças de segurança mais precisam de ajuda para identificar ameaças.
Ao aplicarmos o critério de proporcionalidade, vemos que quanto mais um programa limita direitos à maioria das pessoas, menos provável é que ele seja o meio menos intrusivo de proteger a segurança. Sem dúvidas, a intrusão profunda em relação a direitos pode enfraquecer a segurança nacional ou a ordem pública por deteriorar a confiança no governo e na proteção às minorias. Um caso em questão são leis que atacam o anonimato, como as da Rússia, ou que exigem que empresas a descriptografem informações, como acontece na China. Não há dúvidas de que alguns criminosos usam esses mecanismos para fugirem de identificação, mas pessoas comuns também as utilizam – para evitar perseguições, garantir a segurança de transações ou simplesmente para ter assegurada a privacidade de comunicações e pesquisas.
Nem o anonimato nem a proteção por criptografia são direitos absolutos; um tribunal pode ordenar que um suspeito de crime seja identificado, ou exigir que uma pessoa quebre o sigilo de suas comunicações como parte de uma investigação. Mas a desproporcionalidade é provável quando governos afirmam ser necessário comprometer os direitos e a segurança de milhões de usuários da internet para capturar criminosos específicos por meio da obrigação às empresas de que forneçam acessos a informações pessoais codificadas.
Quando o Departamento de Justiça dos EUA, ávido em acessar o iPhone do atirador de San Bernadino, tentou forçar a Apple a reconfigurar seus padrões de segurança, muito mais do que a segurança daquele específico iPhone estava em jogo. Essa “reconfiguração” poderia deixar dados mais vulnerável a vazamentos ou a invasões de criminosos que tentariam hackear esses modelos de celular. E não havia nenhuma garantia de que o governo dos EUA, ou qualquer outro governo, não poderia passar a exigir repetidamente o acesso a esses celulares, pondo em risco a segurança de todos os seus usuários.
Os governos não podem fugir de suas obrigações para com os direitos humanos ao delegarem às empresas a responsabilidade de reprimir discursos de ódio, apagar informações ou reter dados desnecessários. O impacto nos direitos pode ser tão desproporcional quanto se o próprio governo tivesse ele mesmo direitos limitados. Empresas privadas têm considerável discrição ao criar as regras para os serviços, e essas normas podem ser muito mais difíceis de serem juridicamente desafiadas por usuários do que leis feitas pelos governos.
Antes de pressionar empresas fornecedoras de serviço de internet a monitorar ou armazenar todo o tráfego ou oferecer atalhos para quebrar configurações de segurança, os governos devem considerar o impacto nos direitos humanos. Mesmo quando grupos civis exigem de empresas que reforcem valores como a civilidade, devemos considerar se as normas dessas empresas serão transparentes, passíveis de questionamento jurídico ou guiadas por algoritmos cegos que não conseguem achar a diferença entre pornografia e fotojornalismo.
Realinhando práticas dos estados com padrões internacionais
Limitar direitos apenas quando necessário ou de forma proporcional não torna impossível a regulação. Alguns limites são essenciais, pois proteger pessoas do terrorismo, da incitação à violência ou da pornografia de vingança são também obrigações dos direitos humanos. Sabemos que esses direitos estão sendo levados a sério quando há transparência nas leis e nas práticas dos Estados, fiscalização independente dos poderes executivos e caminhos para recursos e reparações.
As restrições devem ser aplicadas ao menor número possível de pessoas e direitos, pelo tempo mais curto possível. Não podemos deixar de considerar em que ocasiões os assuntos necessitam de atuação do Estado e quando são melhor resolvidos por comunidades, novas tecnologias ou pela promoção de discursos combativos. Encontrar a maneira menos intrusiva possível requer imaginação e colaboração entre aqueles que governam e aqueles cujos direitos estão em jogo.
A atual divergência entre o que dizem os Estados e o que, de fato, fazem, não pode ser sustentada por tempo indefinido. As práticas dos Estados devem se reconectar com a proteção dos direitos, ou estes serão violados frequentemente na era digital.
Direitos humanos e segurança são dois lados da mesma moeda. Quando direitos são frequentemente violados, sociedades tornam-se inseguras, como pode verificar qualquer um que assiste a destruição da Síria. Sociedades que privam seus cidadãos de privacidade online e de formas de segurança digital são profundamente vulneráveis – a crimes, demagogos, corrupção, intimidação e estagnação. Ao nos lançarmos num futuro digital, parece ser mais prudente levarmos nossos direitos conosco do que abandoná-los junto às nossas máquinas de escrever.